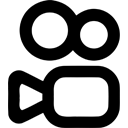Papatinho: o mago carioca das produções contemporâneas
Produtor e beatmaker conta como iniciou na Cone para virar referência na música

Papatinho com a sua MPC lança o disco "MPC" -- Música Popular Carioca (Arquivo pessoal)
Tiago da Cal Alves não nasceu em berço musical, muito menos pensava em se tornar artista. Meio nerd, mas da turma da bagunça, sempre foi fissurado na combinação entre matemática e tecnologia. Ele, que pensava em ter um emprego tradicional, trabalhando com números, viu sua história mudar e se misturar com um dos primeiros fenômenos musicais das redes sociais.
As novas gerações não devem saber a conexão entre um cone sinalizador e um boné de aba reta. Dessa combinação improvável e “cabulosa”, aliada à cultura hip-hop e ao boom da internet, surgiu a ConeCrewDiretoria, um grupo de “mulekes” que invadiu o mainstream na primeira década dos anos 2000.
Os rappers Ari, Batz, Cert, Maomé, Rany Money, ao lado de Tiago, ou melhor, Papatinho, causaram impacto com seus beats e rimas que defendiam bandeiras que ainda eram tabu no mundo da música.
Ao usar um sample de “I Put a Spell on You” (1965), clássico da cantora Nina Simone, ele, flamenguista que vendia shows com o nome falso de Nunes Antunes, decolou na carreira de produtor.
Rapidamente, ganhou reconhecimento de ícones nacionais. Ambicioso, queria mais. E conseguiu, já que sua paixão pela música o levou a voos internacionais. Nunca acreditou que a língua fosse um fator impeditivo. Assim, conseguiu trabalhar com alguns de seus principais ídolos, que vão de Dr. Dre e Snoop Dogg a Kanye West.
Além de produtor, Papatinho é um homem de negócios, comanda seus próprios projetos e impulsiona novos talentos, tendo revelado nomes como Orochi e L7nnon.
Apesar de ter chegado longe, não esquece de onde veio. Tanto que, em maio, ele lançou o álbum “MPC (Música Popular Carioca)”, revisitando as origens do funk carioca. Um cria com orgulho de ser.

Qual é a sua primeira memória com a música?
A música sempre fez parte da minha vida, apesar de eu não ter vindo de uma família de músicos. Ela surgiu por acaso. Percebi que tinha um feeling musical mais tarde, quando comecei a produzir música. Mas, na verdade, nunca almejei ser produtor ou artista, porque isso não fazia parte das referências que eu tinha na minha família. Não havia incentivo, por não fazer parte do meu mundo.
Sempre gostei de tecnologia, cresci nos anos 1990, uma época de muitas novidades como a internet e o gravador de CD. Isso me ajudou a entrar no mundo da música. Meu primeiro case de sucesso foi na internet, com a ConeCrew, projeto 100% independente, nascido no digital.
Quando você era mais novo, o que gostava de escutar?
Cresci ouvindo funk carioca. Na escola, eu cantava, decorava as letras. Os álbuns “Rap Brasil” 1 e 2 marcaram minha infância. Mas sempre gostei também de música brasileira: Tim Maia, Gabriel o Pensador. Inclusive, tenho um álbum dele, o “Quebra-Cabeça”, com meu nome escrito a lápis, e hoje ele é meu amigo. Michael Jackson também, sempre curti.
Seu nome é Tiago, de onde veio Papatinho?
Vem de “Sapatinho”, que é uma gíria no Rio: “ficar no sapatinho”, no seu canto, mais de boa. Esse era meu apelido, porque sou calmo. Já Papatinho veio de uma variação do apelido. Na primeira gravação da ConeCrew, os moleques falaram “Papatinho”, eu achava que só teria uma música na vida, e, quando rolou outra, decidimos manter. No início, eu tinha até vergonha desse apelido.
Sério?
Depois que acostuma, fica maneiro. Mas até para me apresentar, “Opa, sou o Papatinho”, eu tinha vergonha. Inclusive, até de falar que era produtor no início; o público não via como um trabalho, até porque não existia na cena. Mergulhei de cabeça e não teve volta. Mas ainda ficava receoso. Quando fiz os primeiros shows com a ConeCrew, eu nem contava em casa. Foi uma aceitação aos poucos, assim como meu apelido.
A ConeCrew foi um grande fenômeno da internet. Quando vocês perceberam que as coisas estavam dando certo?
Um dos primeiros impactos foi em 2009, quando fizemos um show lá em Porto Alegre (RS), e, quando a gente chegou no aeroporto, tinha um monte de fãs nos esperando.
Quando lançamos “Chama os Mulekes” (2011), foi um divisor de águas. Ali foi o lançamento da minha carreira de produtor, porque o sample Nina Simone chamou a atenção da cena do rap. A partir daí, passei a produzir Marcelo D2 e Gabriel o Pensador.
Lembro de uma história em Porto Alegre, depois de um show, o Marcelo D2 estava na cidade. Ele foi ao nosso show, entrou no palco com a gente e virou parceiro. Ele sempre foi uma referência, vivia o mainstream, e me espelhei nele.
Estávamos com “Chama os Mulekes” e “Rainha da Pista” estourando, tocando em festivais como Lollapalooza e Planeta Atlântida. Convidamos a Anitta para participar de shows, cheia de admiração pela ConeCrew.
Você ganhou um título da Ordem da Música. Me conta um pouco, porque é bem específico.
A ConeCrew queria se profissionalizar, então decidimos pegar o registro da OMB, a Ordem dos Músicos do Brasil. Fomos ao centro do Rio de Janeiro ver como funcionava. Quando chegou a minha vez, falei que fazia beats, comecei a tocar e ela ficou impressionada. Ela me cadastrou como ‘sampler’, e eu ganhei uma categoria na minha carteira da OMB, com uma foto de terno.
É engraçada essa história, porque nunca usamos um terno na vida e a foto tinha que ser de terno. Naquela época eu e os moleques éramos meio roots, como íamos arrumar um terno? Um cara lá na porta falou: “Vai do outro lado da rua, tira uma foto, que o cara edita e coloca vocês em um terno.”
Além do “MPC”, seu disco solo, o álbum novo com a ConeCrew está chegando depois de oito anos. Como foi se reunir de novo com a crew para criar algo mais robusto?
Nunca nos reunimos em estúdio para fazer música, porque não dá certo, vira tudo – menos música. Eles são muito agitados; me sinto como um professor que não consegue fazer os alunos ficarem de boa. Mas juntos somos os Power Rangers, tivemos que nos unir para fazer acontecer. A cena não existia, a ConeCrew cortou a mata e fez trilha para outros artistas.
Agora estamos em outra fase, todo mundo está mais tranquilo. Estou me certificando de que estamos fazendo um álbum com a cara da ConeCrew, porque a dúvida era como iríamos voltar. Chegamos a descartar um álbum inteiro, foi quando me liguei que o som do grupo é algo único.
A ConeCrew foi uma escola para você?
Foi, sim. Eu queria fazer as coisas do jeito certo e aprender com os erros de algumas bandas que eu via acabarem. Por isso, sempre tive essa preocupação. Com o tempo, acabei assumindo um certo protagonismo no grupo, atuando como produtor.
Cheguei a vender shows usando um nome falso. Nunes Antunes era o nome do atacante do Flamengo na época do Mundial, e o sobrenome era o do Zico. Ficou Nunes Antunes. Vendi shows, fiz vídeos, gravava e editava os vídeos. O primeiro clipe da ConeCrew eu dirigi e filmei. Com isso, fui muito mencionado por eles nas músicas, e eu dava as entrevistas principais. Acabou que os fãs passaram a ver o produtor musical tendo protagonismo. Isso influenciou outros produtores musicais e outros grupos a destacarem o produtor.
Quem foi o primeiro artista gringo que te contatou e com quem você ficou impressionado?
Foi Snoop Dogg. Minha tag atual é ele falando “Número 1, Papatinho”. Faz 10 anos que vou para os Estados Unidos para tentar, de “malucão” mesmo. Lá em Los Angeles conheci o Edgar, que acreditou e enxergou que, no futuro, eu poderia ser um produtor global. Então, comecei a acreditar nesse sonho.
Em 2014 foi o início da minha caminhada lá para fora. Conheci o Scoop DeVille, que tinha trabalhado como o Dr. Dre e o Drake. Com essa conexão, enviei beats para um álbum do Kendrick Lamar.
Cheguei a receber e-mails da equipe do Kendrick, falando que gostaram de alguns beats, mas ele não era o que é hoje. É muito maneiro você estar em uma cena e poder acompanhar o crescimento de alguns artistas. O Rauw Alejandro [cantor porto-riquenho], por exemplo, conheci quando ele estava começando, assino músicas do álbum dele “Trap Cake Vol. 1” (2019). Hoje ele é um superstar, eu o reencontrei no aniversário do Vini Jr. e falamos: “Cara, olha no que nos transformamos.”
E o Kanye West? Como foi o caminho até ele?
Tudo começou com o Ty Dolla $ign. Na época, eles estavam fazendo o segundo álbum do “Vultures”. Sabia que o Kanye poderia estar com ele. Então fiz uma pasta diferente e coloquei “Papatinho from Brasil”. Nela coloquei beats que eu tinha certeza que, se eles apertassem o play, iriam me chamar para o estúdio.
No dia seguinte, eu estava em uma sessão de estúdio quando o Max Martin apareceu e começou a participar. Essa história é surreal: recebi um SMS do Ty Dolla dizendo ‘Venha sozinho ao Hotel Bel-Air’, e eu estava com o Max Martin, não podia sair. Ganhei tempo perguntando que horas e qual era o quarto, porque rapper demora para responder.
Saí e fui sem saber o que esperar, mas meio pensando na possibilidade. Depois do primeiro encontro, fiquei dias trabalhando no quarto do hotel. De fato, éramos eu, Kanye West e Ty Dolla $ign trabalhando por horas. Recebi mais de 30 músicas para fazer o que quisesse. É sensacional como ele trabalha, tanto como líder musical quanto como maestro da sessão.
Você está revisitando os primórdios do funk com seu novo álbum, “MPC (Música Popular Carioca)”. Quando você começou essa ideia?
O nome Música Popular Carioca vem com a sigla MPC, que é o instrumento que uso para produzir. É um projeto do Rio de Janeiro com a estética dos anos 1990, gravei com o microfone dinâmico para dar aquela vibe da época. Aproveitei isso e fui até alguns artistas, o Cidinho, por exemplo, é muito difícil tirá-lo da Cidade de Deus, gravei ele num banheiro.
Além dele, Anitta, Cabelinho, Fernanda Abreu e TZ da Coronel são alguns dos vários nomes da música urbana carioca que participam do álbum.
Quando você percebeu que era hora de expandir seus projetos para além da produção?
Quando completei dez anos de carreira, em 2016, criei a Papatunes. Tudo começou com o nome: eu queria algo que tivesse relação com Papatinho, mas que tivesse a cara de uma empresa. Meu irmão é meu sócio; ele se especializou na parte empresarial e em eventos. Eu precisava de uma pessoa sagaz para assumir a responsabilidade de uma label de rap.
Nosso primeiro artista foi um moleque que batalhava com o boné da ConeCrew em São Gonçalo, chamando muita atenção no YouTube: o Orochi. Depois veio o L7nnon, um moleque especial que apareceu na nossa vida. Ele era um skatista que fazia umas rimas e virou um rapper de primeira que anda no skate.
Esse projeto abriu portas para os shows. Nós criamos uma label, o Baile do Papato, onde eu tinha o meu show, convidava os artistas e organizava o evento. Tudo isso foi caminhando até que cheguei ao Rock in Rio, no palco Sunset, que foi um grande desafio em 2022. No show, eu já contei um pouco da história do funk com o rap, misturando Cidinho e Doca com Hariel e L7nnon, Carol de Niterói com orquestra e dançarinos. Tudo isso junto em um show bem desenhado, eleito pela crítica entre os top 10 do Rock in Rio daquele ano, e eu não esperava conseguir virar DJ. Minha maior paixão é produzir música. Eu moro no estúdio, mas passei a gostar também de fazer shows como DJ.
TRENDING
- Veja o setlist do show do AC/DC no Brasil 28/02/2026
- Veja a lista completa dos vencedores do BRIT Awards 2026 28/02/2026
- AC/DC no Brasil: veja setlist e o que esperar do show 28/02/2026
- Pesquisa: K-pop cai 25% em streams, mas BTS e BLACKPINK lideram virada em 2026 26/02/2026
- Lollapalooza 2026: 6 nomes para conhecer além dos headliners 27/02/2026