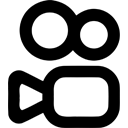Daniela Mercury revela opressão de gravadoras ao lançar ‘O Canto da Cidade’
Cantora foi a entrevistada do mês na revista física da Billboard Brasil

Daniela Mercury no Carnaval da Bahia (Will Dias/Brazil News)
Foi em meio à tarde paulistana que Daniela Mercury chegou ao estúdio da Billboard Brasil. A entrevista tinha como gancho seus 40 anos de carreira, seu ímpeto político em manifestações nas redes sociais e seu mais recente “Cirandaia”, 14º álbum da carreira (Ouça abaixo).
Este número (14), inclusive, é controverso: como transformou seus shows em espetáculos completos, partes maravilhosas de sua discografia são registradas nos álbuns ao vivo como na trilogia “Memória do Futuro”
Quando senta para conversar com o repórter, ela já estava conversando — assertiva, ao telefone, dando instruções de mixagem para um dos produtores.
A voz está muito opaca, não foi assim que combinamos”, ela dizia a Gabriel Mercury, também seu filho, e ao norte-americano Brandon Duffy. Ambos dividiram a produção do álbum gravado em Salvador e Los Angeles e tentavam cumprir o prazo de distribuição de uma versão deluxe de “Cirandaia”. Ainda se recuperando da saga, veria um staff completo ainda entraria no estúdio: a esposa Malu garantia os trâmites com os produtores, uma assessora garantiria uma luz melhor para o rosto da artista e, enfim, um maquiador retocaria os últimos sinais de suor.
“A gente está há três anos trabalhando este álbum… é um vai e vem…”, aí ela pausa. Percebe que vai engatar outro assunto. O repórter introduz a cantora no vídeo como uma ‘rebelde’ da música pop brasileira e ela pega e deixa.
“A gente precisa ser rebelde. Acreditar no que a gente acha bom. O belo e o que agrada sem o juízo do gosto’. Isso é Kant. Não há certo, errado, bom, mau. O artista precisa ter coragem. Às vezes, a beleza está na estranheza”, inicia.
Daniela começou nos anos 1980, já dando seus pulos anti-monotonia. “Bárbara”, “Atrás da Porta” e “Pedaço de Mim”, todos de Chico Buarque, eram constantes em um repertório difícil para qualquer artista da ébria noite.
Lançou seu primeiro álbum depois de conduzir o trio da Banda Eva e ter uma banda, contribuindo já para um axé que existia sem esse nome.
Sua estreia tinha canções de Carlinhos Brown e Roberto Mendes – e se gravou Gilberto Gil, escolheu uma das faixas mais lado B do manifesto tropicalista “Tropicália ou Panis et Circensis”. O disco continha “Swing da Cor”, seu primeiro hit.
Depois, com “O Canto da Cidade”, viraria fenômeno nacional, alardeando um pop único que torceu o nariz de muita gente. Quem mais lucrou com a vendagem (1 milhão de cópias) era quem se enojava daquela baianidade: feminina, contestadora.
“Os diretores artísticos de gravadora odiavam o que eu fazia, o axé”, relembra citando, um por um dos “entendidos”.
Os desaforos incentivaram Daniela a não deixar sua carreira nas mãos de gravadoras: montou seu escritório, dispensou acenos de empresários e, principalmente, aprendeu a negociar naquele tabuleiro. “Se eu estou aqui até hoje é porque consegui autonomia e não ficar sujeita a contratos nocivos”, diz.
Em meados de 90, na segunda auge do axé, preparou “Feijão com Arroz” — com “À Primeira Vista”, que impulsionou Chico César, e “Nobre Vagabundo”, de Márcio Mello. “Rapunzel”, grande hit, foi inicialmente reprovada pela Epic/Sony Music.
Se entendendo como pesquisadora, vasculhando compositores e tendências, segue a investigação de baile ao interpretar canções de Almério, Ceumar e Dona Onete. Em uma hora de papo, confirmou que, basicamente, teve coragem para ter coragem.
Assista ao vídeo com a entrevista de Daniela Mercury à Billboard Brasil
Leia a entrevista de Daniela Mercury à Billboard Brasil
Você se tornou uma artista pop à revelia das tradições do modismo. Mas é vista muito mais como artista popular do que como rebelde.
Adorei. Os psicanalistas dizem que rebeldia é reencontrar a beleza. O artista precisa ser capaz de agir com coragem, de optar pelo seu olhar sobre a beleza ou sobre qualquer coisa. A beleza está na estranheza, como Tom Zé. A gente acabou de perder Hermeto Pascoal, que é a vanguarda dessa estranheza. Quando a gente vai à zona de desconforto, ninguém em volta gosta: pais, filhos, empresários. É a coisa mais difícil para o artista.
Mas como é demarcar esse território?
É mais fácil (artista) dizer “ok, vou fazer o que você quer”. Não. Peça “faça mais uma vez o que estou pedindo, não reclame”. Vão dizer “mas está errado!”. E você diz: “é isso mesmo, quero assim”.
Em 92, você disse que, mesmo como cantora da noite e de bares, fazia questão de confundir quem estava lhe assistindo.
Cantava “Bárbara”, “Atrás da Porta”, “Pedaço de Mim”, todas do Chico Buarque. Você acha que era fácil? As pessoas na cachacinha e eu “Ohhhh pedaço de mim” (risos).
E como é ser, então, essa implicância rebelde em um meio que pede por conformidade?
A conformidade é o que reina. O que vão pedir de uma artista do pop é o que ele faça o que está na moda. É dinheiro garantido. Trazer inovação é criar dificuldade. Eu já tenho uma base de fãs que, no mínimo, atura a “rainha má” fazendo coisas novas — e não se atrevem a dizer que não gostam. E eu acho muito bom. Porque, senão, fico presa a mim mesma. Mas eu queria lhe dizer que o mercado quer essa conformidade.
Mas o mercado não percebe que isso atrapalha.
É. O sistema atrapalha ele mesmo. Eu sempre perguntava às gravadoras: “Cadê a bola de cristal de vocês?”. Eu tinha que ouvir de diretores artísticos das gravadoras, dos meus maiores contratos, que eles odiavam o que eu fazia, oxê. Tentavam me oprimir, me submeter a eles, minar minha convicção. Eu dizia: “Meu Deus, sinto muito que você tenha que trabalhar aqui. Eu sou a artista principal da sua gravadora e você não gosta do que eu faço?”. E um deles disse: “Eu vou rasgar seu contrato”. E eu emendei: “Pois rasgue”.
Foram assim, literalmente, as conversas que você teve com as gravadoras?
É! A vida inteira! Quando eu fui gravar “O Canto da Cidade”, um pouco antes do Masp (Daniela menciona o show no vão do museu paulistano que, fenômeno, levou quase 20 mil pessoas à Avenida Paulista e foi, consequentemente, interrompido para não danificar o acervo do museu), eu já era uma artista de shows esgotados no Nordeste… Eu já havia ido não para a CBS (atual Sony) dois anos antes. A primeira vez foi para Roberto Augusto [ex-presidente da Sony Music] e para o diretor Marcos Kilzer [vice-presidente artístico da Sony à época]. Eles não queriam que eu fizesse samba-reggae e ameaçaram dispensar o Olodum. Eu disse: “Vocês estão todos errados! O Olodum é a melhor coisa que existe no Brasil, não é inteligente. E, dois, não deixei vocês me contratarem porque sabia que vocês iriam impor repertório e gênero”. Eu não ia suportar. Eles disseram para mim: “A gente queria que você fizesse música cigana”.
E você não fez.
O álbum ficou pronto e eles não gostaram — e não queriam que “O Canto da Cidade” fosse a música de largada. “Essa música é muito estranha, não sei o quê”. Quando chegou o “Música de Rua”, meu álbum seguinte depois de quase 3 milhões de cópias vendidas e estourado no mundo, o Jorge Davidson [ex-diretor artístico da Sony] senta comigo, e eu já estava em uma loucura de carreira internacional, e diz: “Agora você terá metade do dinheiro de ‘O Canto da Cidade’”. Eu era a artista número um da gravadora, lançada internacionalmente junto com o Oasis. Então, eu disse: “Jorge, preste atenção, eu não sou empregada da gravadora. Pode voltar. Eu não tenho tempo para discutir com loucos suicidas. Eu tenho dinheiro para fazer o álbum. Tô nem aí”. Era assim o tempo inteiro.
Aconteceu mais vezes?
Sim. Depois de dois anos de pré-produção bancados do meu bolso para o “Feijão com Arroz” (lançado em 1996), chegaram para mim e disseram “não gostamos de ‘Rapunzel’” (a canção foi um dos maiores sucessos do ano e da carreira internacional de Daniela). Eu já dizia “bicho, isso aqui é outra coisa”, entende nada, deixa que eu cuido.
Esse álbum surge no segundo auge do axé. Mas você parecia já estar em outra.
É. O “Música de Rua”, por exemplo, é todo harmonizado com berimbaus porque, depois de “O Canto da Cidade”, aquelas guitarras viraram referência. Então, comecei a fugir de mim mesma, junto com o Ramiro Musotto (percussionista argentino), figura ímpar nos arranjos percussivos das canções surgidas em Salvador no final dos anos 1980. Em “Feijão com Arroz”, a gente queria uma percussão engessada como a que Paul Simon fez. É lindo, mas é captado como se toca na rua, mas tem overdubs de instrumentos. Eu queria mais diálogo.
Você queria ser mais pop: não replicar, mas construir algo com aquilo.
Lógico! É que nem tentar fazer uma música pop com escola de samba.

Em 2001, provocada por um repórter, você disse que “Anna Julia”, do Los Hermanos, era uma réplica de música romântica qualquer. “Não quero desmerecer, mas chega a ser vulgar de tão manjada”, você disse em uma época em que o rock era a tábua de salvação de mercado.
O álbum de “Anna Julia” é genial. Mas eles mesmos não davam tanto gás para ela. Um diretor vivia me dizendo que “adorava rock”. Eu também “adoro rock”. Mas sou outra coisa, bicho. Recebi a bênção de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. João Gilberto disse que eu era da família dele. Sou da terra de gente desafiadora, como Raul Seixas. Eu quero achar outros caminhos. E o ritmo, os tambores foram minha salvação. É dificílimo. Até hoje os músicos brasileiros não sabem tocar as levadas do Ilê-Ayê e do Olodum. Às vezes, em Salvador! Isso é domínio de alguns artistas, principalmente da minha geração. E essa agonia de querer algo novo faz perder a pesquisa e o que está sendo feito — que, às vezes, é novo e não se firmou.
Você virou uma pesquisadora e nos anos 2000 estava fazendo eletrônica.
Eu fiz uma identidade de artista — coisa muito complexa. Quando eu fiz música eletrônica, eu fui comprando álbuns pela América, Europa. Quando eu já tinha quase cinco anos ouvindo música eletrônica.
Queira ou não, tudo volta para a pesquisa.
Tanto é que um menino da Bizz (famosa revista de música dos anos 1980 e 1990 no Brasil, com pendor e viés masculino e roqueiro) fez uma entrevista muito engraçada.
Ele botou um headphone com eletrônicas instrumentais no meu ouvido. Meio que uma banca de “uma baiana metida a fazer música eletrônica” ou “mulher nordestina, cantora de axé que não manda nada”. A primeira era Prodigy, acertei. A segunda era um house, Carl Cox, acertei. A terceira, Kraftwerk (pioneiros alemães da eletrônica), acertei. Meu álbum foi considerado um dos mais importantes de eletrônica na Alemanha!
E ele?
Ele ficou surpreso. Eu comprei o primeiro álbum de Björk, conheço as primeiras fusões de soul music com techno, de 2-step na Inglaterra, da moda lounge… Todos os anos eu passo dois anos fora do país. Depois o eletrônico virou dance dos anos 1970, 1980. Os Estados Unidos vivem voltando pro twist, R&B, que é a base do rap e trap. Eu fiz o primeiro pagode trap do Brasil (“Pagode Divino”, de 2020). O primeiro kuduro do Brasil!
Nos últimos dez anos você figurou em pautas políticas, terreno que poucos querem pisar.
A gente conseguiu fazer o governo se sacudir. Mas ainda não resolvemos as questões dos vetos [da PEC da Devastação, PL 2159/2021]. Eu gosto desse tipo de provocação. Eu não sei por que as pessoas têm medo. Eu não faço vigia de colega e liberdade tá aí pra isso. O que eu posso dizer é que eu vivi um regime militar e vi a atuação dos artistas. Fiz minha primeira campanha política. Não era só um desejo por Lula, mas porque era o único democrático que poderia ganhar de Bolsonaro. Houve quem lutou e artistas que se silenciaram. Eu, consolidada, não tinha outro caminho. Cantei “Geração Perdida” e “Bandidos da América” nos anos 90. Isso nunca foi popular, sou eu sendo coerente.
Ouça “Cirandaia”, de Daniela Mercury
TRENDING
- Grammy 2026: veja a lista completa de vencedores 01/02/2026
- Lola Young desbanca gigantes do pop e vence primeiro Grammy da carreira 02/02/2026
- Categoria de melhor capa de álbum estreia no Grammy com Tyler, The Creator 01/02/2026
- Olivia Dean se une a panteão de britânicos ao vencer Grammy 01/02/2026
- História, política e recordes: o que está por trás de Bad Bunny no Grammy 2026 30/01/2026