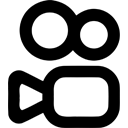Conheça as transformações do jornalismo musical nas últimas três décadas

Gorillaz (Divulgação)
No início de 1996, o Brasil tinha pouco mais de 200 mil usuários da internet. Não havia rede social e o que se via na tela do computador – também não existiam smartphones – eram basicamente versões digitais dos jornais e publicações impressas. Revistas, cadernos culturais, fanzines, o rádio e a TV eram as plataformas disponíveis para saber sobre música.
Nelas, a gente se informava sobre lançamentos, lia, ouvia e assistia a entrevistas com artistas nacionais e estrangeiros, críticas sobre discos e shows, entrevistas de página inteira, dicas e a agenda cultural da semana.
A relação entre imprensa e artistas era tensa, e o leitor participava dela por carta – em 1996, já era possível fazer isso por e-mail. Para quem consumia tudo de música, visitar bancas de jornais em busca das capas de revistas mais atraentes era um exercício obrigatório e divertido.
Tretas entre crítica e artistas são o tempero apimentado da cultura pop no mundo. De Frank Sinatra x Gay Talese à revista “Vice” x Lady Gaga, a relação sempre foi agridoce. Tempos em que a cobertura musical era feita de modo apaixonado; às vezes, com o fígado. A crítica provocava e artistas caíam na provocação.
Em 1982, Raimundo Fagner não gostou do que leu na crítica de Miguel de Almeida, que classificou seu disco como cafona. Dias depois, os dois se encontraram para uma entrevista. Fagner chamou Miguel de moleque e lhe deu um chute na bunda. Em 1984, Nasi invadiu a redação da Folha de S.Paulo para pegar na porrada o jornalista Pepe Escobar, que havia desancado o rock paulista em texto publicado na Ilustrada. No começo dos anos 90, os Titãs rasgaram no palco uma edição da revista Bizz depois que o editor André Forastieri registrou que, com “Tudo ao Mesmo Tempo Agora”, sétimo disco da banda, o rock brasileiro “esticava as canelas”. Em 1997, o jornalista Luiz Antônio Giron esculhambou, também na Folha, o álbum “Severino”, 15º da carreira do Paralamas do Sucesso. Tirou sarro da careca e do sotaque de Herbert Vianna cantando em espanhol. A banda usou o mesmo jornal para chamar Giron de burro, e na MTV Brasil, Herbert, sem citar nomes, ameaçou: “Respeito é bom e conserva os dentes”.
A pancadaria não impedia, porém, que gravadoras continuassem a anunciar nos veículos que batiam nos artistas, porque os elogios se davam na mesma medida – e como diz o ditado, qualquer publicidade é boa publicidade. Também seguiam enviando discos, sugerindo nomes novos do cast e convidando a imprensa para shows e convescotes do mercado fonográfico.
Isso transformava jornalistas, DJs e VJs em curadores. A internet e as redes sociais de algum modo tiraram esse curador de cena, ou o substituíram por influencers. Seguir o perfil de um artista é saber de detalhes da carreira e da vida pessoal dele. Se é assim, um intermediário é, para muitos, dispensável.
O futuro não é mais como era antigamente
Quando prestei vestibular para Jornalismo há 30 anos, a internet ainda era um imenso ponto de interrogação. As bancas de jornais seguiam forradas de revistas, a MTV Brasil executava videoclipes 24h por dia, as rádios eram a principal plataforma para ouvir a música do momento. Os semanários britânicos NME e Melody Maker estavam em bancas de algumas capitais do país, assim como as norte-americanas Billboard e Rolling Stone (então sem edições brasileiras). Todas com preços acessíveis – eram tempos de paridade do real com o dólar – e aguardadas com ansiedade. Hoje, não existe mais Melody Maker, a NME é apenas online, e a Bizz, a principal revista de música do país enquanto existiu, deixou de circular em 2007. Um cenário inimaginável na minha cabeça de vestibulando, aos 20 anos.
Em 1999, dois universitários norte-americanos criaram um programa de compartilhamento de músicas em MP3 chamado Napster, viraram a indústria fonográfica de cabeça para baixo e deram o bico que começou a derrubar todos os modelos que a gente conhecia de indústria musical, incluindo a cobertura da imprensa. A música era grátis e estava a apenas um clique. Nove anos depois, eu estava em um festival de música em Brasília, como freelancer de uma revista de música, e em um dos debates propostos pela programação surgiu a reclamação: a imprensa fala muito sobre mercado, mas pouco sobre música. Talvez porque tudo fosse muito novo. Era preciso ler e falar sobre para tentar entender o que acontecia.
Em 2009, ouvi do diretor de redação de uma publicação em que escrevia que eu estava liberado para descer a marreta em qualquer artista internacional, mas que devia pegar leve quando o texto fosse sobre alguma banda brasileira. Eu preferia a liberdade dos tempos de chumbo trocado, que curti mais como leitor do que como profissional, mas entendi que o momento era outro. Se, até então, artistas respondiam a críticos, hoje respondem a haters. Perguntada em 2021 sobre como respondia a ofensas digitais, Marisa Monte respondeu: “Canto amor e gentileza a vida inteira”.
O momento é do streaming, da música viral, do algoritmo que sugere playlists e de banda gerada por IA entre as mais executadas no Spotify. Acho que vai ser preciso seguir lendo e falando muito sobre música para tentar entender o que acontece.
Filipe Albuquerque é jornalista e autor do livro “Um culto ao Velvet Underground num salão de forró da Baixada Fluminense“ (Editora Sapopemba, 2025)
TRENDING
- Membros do ENHYPEN se pronunciam sobre saída de Heeseung do grupo 10/03/2026
- J.Y. Park renuncia ao cargo de diretor interno da JYP Entertainment 10/03/2026
- ‘Mais satisfatório para todos’: BELIFT fala à Billboard sobre Heeseung 11/03/2026
- Heeseung, do ENHYPEN, anuncia saída do grupo 10/03/2026
- ENTREVISTA: LNGSHOT explica autonomia criativa e planos para o Brasil 11/03/2026