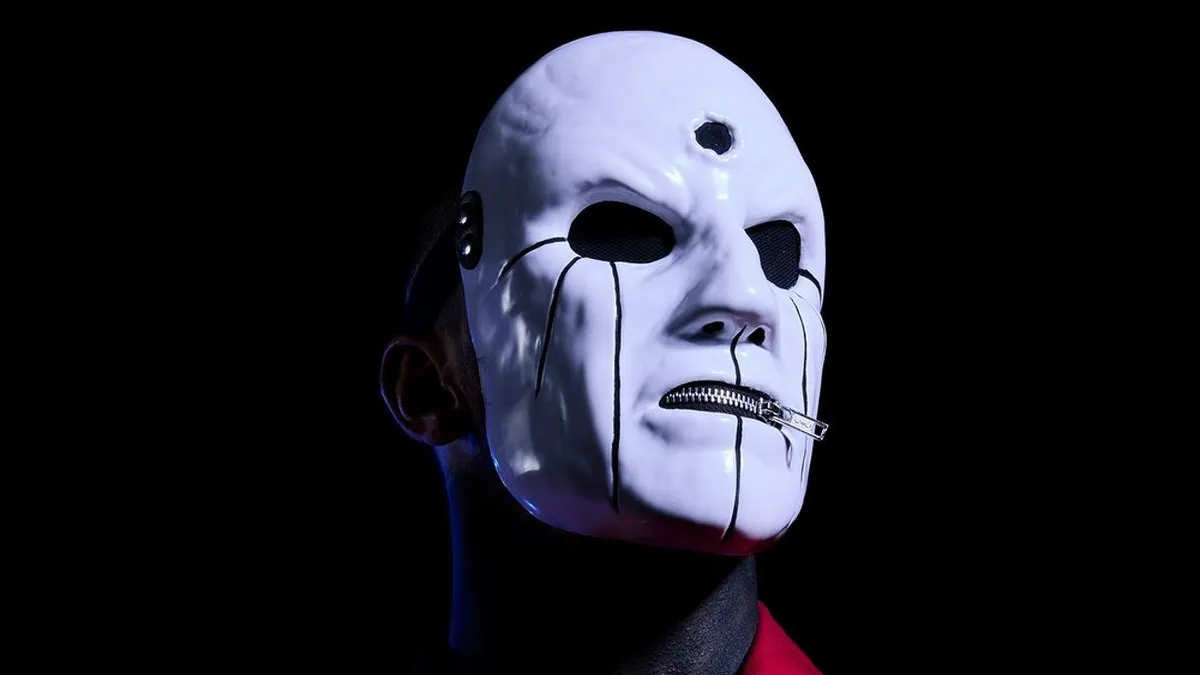Se há algo que o Brasil sempre pôde se orgulhar é sua tradição musical. Não importa se você é imperialista ou republicano, as notas e os acordes estão impressos em nosso DNA nacional. Seja por meio do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, músico e compositor de primeira que trouxe para o Brasil o piano nas costas, ou pela contribuição de povos locais e imigrantes – indígenas, europeus ou africanos. Todos, sem exceção, contribuíram com seu tempero para que as obras fonográficas brasileiras se tornassem únicas diante do cenário mundial.
Dos tambores do lundu, que gerou o samba, que deu origem a bossa nova, à influência Ibérica das haciendas, que inspirou o gênero caipira e a viola brasileira de dez cordas, pai e mãe da música sertaneja: no contexto internacional, sempre fomos únicos.
Ao longo de nossa história registrada, enquanto sons e melodias evoluíam em paralelo à revolução industrial do fonógrafo, criado por Thomas Edison, Fred Figner – patriarca da indústria fonográfica brasileira e dono do monopólio que se tornaria nossa primeira e lendária gravadora – não perdeu tempo. Com a nova tecnologia exclusiva disponível em mãos, percorreu o Brasil para descobrir talentos e apresentou para artistas amadores de rua, do Oiapoque ao Chuí, a máquina que gravava a voz do homem. Figner gravou os mais talentosos brasileiros, de todos os gêneros possíveis, e os lançou pela Casa Edison, sob o selo da Odeon, que dominou o mercado nacional até meados da década de 1930.
Nesse período, os intelectuais brasileiros, diante de tamanha diversidade, dividiram-se em dois grupos principais para decidir como projetar a música nacional no mundo. De um lado, uma minoria acreditava que nosso som característico deveria vir dos centros urbanos. Durante muito tempo, gêneros como o samba e o que veio a ser classificado como “MPB” não eram necessariamente a escolha da elite, que via na música caipira, o canto do povo do interior, o verdadeiro representante da identidade brasileira. Esse consenso prevaleceu até o dia em que a maestria da bossa nova furou a bolha e mudou para sempre o rumo do mercado brasileiro.
Foi apenas a partir da década de 1960 que o caldo da música brasileira engrossou e ganhou força no cenário fonográfico global, fazendo com que o mundo voltasse seus olhos para o sul. Rios de dinheiro fluíram para nosso setor por meio de selos como Philips e Polydor. Discos de vinil brasileiros, de todos os tipos, eram comercializados mundo afora.
Fosse “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim, as canções de Jorge Ben, a Tropicália, a parceria de Raul Seixas com Paulo Coelho ou o LP de rock psicodélico de Ronnie Von, vendido no Japão por 4 mil dólares por sua aura clássica, tudo era exportado.
Esse sucesso não se devia apenas à efervescência cultural, mas à excelência da criatividade brasileira, que floresceu mesmo nos tempos mais difíceis e controversos.
No entanto, uma era da música e um gênero hoje quase esquecido pelas novas gerações foram para lá de especiais. Engana-se quem pensa que apenas a elite da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e geração de apadrinhados era apreciada no exterior. O rock brasileiro, que sustentou uma fatia enorme da indústria fonográfica nas décadas de 80, 90 e 2000, mesmo com a ascensão do sertanejo como música das massas, tornou-se tão clássico que até os maiores nomes internacionais sentiam inveja.
Muito mais do que um guilty pleasure, mas um verdadeiro cult classic da música brasileira, que se destacou em centenas de prateleiras ao redor do globo. Foi quase um Beatles, yin-yang: ao mesmo tempo que eram populares, eram também a contracultura.
A musicalidade, as capas de discos icônicas, a poética rebelde dos jovens do Brock, a beleza vendável dos vocalistas e a exclusividade de pertencer a um grupo seleto que conhecia tudo sobre o rock brasileiro encantavam a elite fonográfica mundial. Mas o que os tornava tão populares no Brasil?
É claro que ninguém esquece o nome da Legião Urbana. Apesar da apatia das atuais gravadoras, da alienação moderna dos editores de plataformas de streaming, e do monopólio das rádios brasileiras pelas empresas patrocinadas pelo agronegócio, uma das músicas da banda de Dado Villa-Lobos ainda figura firme no top 100 do Spotify Brasil há anos, provando que o rock não está morto, ele é apenas boicotado.
Em maio de 2024, o magnata britânico da indústria fonográfica Ben Mawson, responsável por lançar artistas como Lana Del Rey e Dua Lipa, visitou o Brasil e correu para a exposição de Renato Russo no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, declarando-se fã número 1 da banda. Mas a lista não para por aí: há inúmeros nomes no Rock’n’Roll Hall of Fame brasileiro, como Barão Vermelho, RPM, Ira!, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Hawaii, Skank, Charlie Brown Jr., NX Zero, Fresno, Pitty, Cássia Eller e tantos outros.
Mas, para responder a pergunta do porquê os artistas e bandas nacionais eram tão populares no Brasil, e se estamos falando de cults clássicos que quebraram recordes e moldes, há uma banda que explica, quase de forma antropológica e psicanalítica, por que o rock brasileiro deu tão certo e por que ainda deveria ser prioridade das grandes gravadoras.
Esta banda, da qual mencionarei no parágrafo a seguir, não é apenas target de campanha de esquecimento, mas dona de um catálogo magnífico vítima de uma desvalorização programada, seja pelas major labels ou pelo gosto politicamente enviesado dos editores musicais.
Ladies and gentlemen, eu estou falando do Ultraje a Rigor!
A primeira banda de rock nacional a conquistar discos de ouro e platina, a primeira a estrear um videoclipe no Fantástico e os queridinhos dos Rolling Stones. Liderado por Roger Moreira, o grupo era o reflexo genuíno da geração dos anos 80, que sabia, como ninguém, o que era ser livre – totalmente livre, 100% livre, sem papas na língua –, a essência do que significa ser um rockstar.
É fácil dizer que é anticensura, que odeia ditaduras e que só ouve artistas que representam o progresso. Mais fácil ainda é gostar apenas daqueles que cantam o que o povo quer ouvir. Mas imagine enfrentar não apenas a ditadura militar, mas também tirar sarro da ignorância da própria cultura? O primeiro single da banda a viralizar chamava-se, literalmente, “Inútil”. Nele, Roger, com seus vocais satíricos, cantava:
“A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos escovar os dente. Tem gringo pensando que nóis é indigente. Inútil! A gente somos inútil!”
Tão impactante quanto “Exagerado”, de Cazuza, ou “Que País É Esse?”, da Legião Urbana, o Ultraje a Rigor lotou as prateleiras do Brasil e tornou-se a primeira febre do rock nacional. Não apenas por fatores políticos ou por enfrentar os generais da repressão de frente, mas por serem tão leves quanto a famosa galinha “Marylou”, nome do clássico nacional com arranjos de ska que deixaram até a banda Sublime com inveja.
Em tempos difíceis, quando o Brasil se preparava para se libertar, era ultrajante fazer as pessoas sorrirem, cantar e dançar. Com inteligência, satirizavam o colonialismo e faziam até militares dançarem ao dizer que o rock brasileiro, como Colombo ou Cabral, invadiria a praia da nação. E, enquanto o conservadorismo ganhava força em meio à epidemia de HIV, era ultrajante cantar a explícita “Sexo!”:
“É eleição, é inflação, corrupção; e como tem ladrão, e assassino e terrorista e guerra espacial. Socorro! Eu quero sexo!”
Esse hit fez a geração Coca-Cola honrar seus desejos a plenos pulmões, na frente de mães, pais e filhos, pois nada – guerras, rumores ou epidemias – seria capaz de reprimir o rock. Mas nem tudo são flores na vida de fenômenos, ainda mais com um rockstar à frente que rejeita qualquer regra. Enquanto Renato Russo e Cazuza eram os frontmen gays quebradores de tabus e Cássia Eller era a roqueira feminista,
Roger cantava que adorava peitos, que gostava de mulheres e gravou “Ah, Se Eu Fosse Homem” para falar do mundo pós-feminismo. O que esperar de uma banda que nasceu para ser tão ultrajante a ponto de incomodar até os mais liberais?
Não é essa uma das funções da arte? Gerar incômodo na sociedade para que a mesma encontre dentro de si o porquê de se sentirem tão incomodados por um simples pensamento? Nem nos sonhos mais selvagens uma banda como essa se calaria após a queda de uma ditadura, independentemente de quem fosse o novo líder – branco, preto, indígena, pobre, classe média ou rico.
E esse poder de se recusar a não ser vítima de nenhuma subversão era a essência da efervescência cultural do Brock, que transformou esse estilo brasileiro em um dos mais cults ao redor do mundo, capaz de deixar até Vinicius de Moraes de queixo caído. Mas apesar de nosso som vender como nunca na América e na Europa durante aquela época, no Brasil, a modéstia e o conservadorismo ganharam nova cara, e a subversão impregnou a maior parte dos setores industriais.
Os rockstars, se quisessem brilhar, tinham que beijar os pés dos executivos das gravadoras e ouvir calados os críticos da elite cultural brasileira. A rebeldia sem polimento não atraía patrocinadores nem agradava os críticos musicais, e, sem ambos, não havia destaque nas rádios ou na TV, e sem rádio e TV não existia vendas.
De escolhida a dedo pelo magnata da televisão Boni para estrear no Fantástico e selar o nascimento do rock nacional, a banda de Roger, quase de repente, tornou-se a ovelha negra da indústria do entretenimento, e não teria Mick Jagger que poderia dar pitacos nos corredores do setor tupiniquim; se os gringos quisessem, que os colocassem para abrir seus shows de estádios. O que é claro, fizeram. Um rockstar de verdade sempre ajuda o outro, e a banda Ultraje A Rigor abriu o show dos Rolling Stones no Maracanã, em 2016.
“A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue encenar.”
Infelizmente, os versos de “Inútil” tornaram-se uma profecia, e não apenas sobre a repressão da ditadura militar: ninguém mais queria tocar ou apoiar publicamente a banda. Eram problemáticos demais e representavam um tipo de brasileiro que a indústria queria esconder, mesmo sendo garantia de discos de platina. E, por mais que o rock nacional reverberasse no mundo, os executivos das gravadoras brasileiras estavam de saco cheio de rockstars, especialmente se não fizessem faixas melódicas e “mela-cuecas”. Sobrou até para o Skank, que teve que competir com o Jota Quest!
A indústria fonográfica nunca foi justa. Descartaram composições clássicas do Imperador e jogaram no lixo o acervo de gravações dos maiores artistas brasileirosda Casa Edison. Cantores, músicos e poetas que abriram as portas e criaram as bases de nossos gêneros musicais antes mesmo de Carmen Miranda decidir se assumir brasileira sequer possuem uma playlist oficial This Is.
Mas eu acredito em justiça, e você? Dizem que ela tarda, mas não falha. Cedo ou tarde, nossa música popular precisa voltar a ser referência e ter profundidade, representando a todos, mas com excelência. Afinal, todos querem ouvir o top 50 do Spotify Brasil ou o Hot 100 da Billboard sem precisar desalinhar os chakras.
Hoje, infelizmente, isso não acontece. A indústria fonográfica brasileira, e a elite cultural que comanda o show business, é parcialmente culpada pela alienação da sociedade brasileira. Tenho certeza de que muitos se perguntam: quando o sertanejo universitário vai finalmente se graduar? Estamos cansados de pagar faculdades para quem sempre repete o ano, os mesmos arranjos, copiam na cara dura o trabalho do coleguinha e vive de featurings.
Por favor, como canta o nosso rock: Invadam, de uma vez, as praias, pois o estado da música brasileira nunca foi tão ultraje! Não proclamemos “Independência ou Morte”, mas digamos em uníssono: CHEGA!
————————
Junior Waldorf é escritor, poeta, produtor e empreendedor no show business. Colaborou com Forbes, Billboard, Sony, Universal, Globo, Meta, Spotify, Twitter, Apple e mais. Une arte, estratégia e inovação no entretenimento.