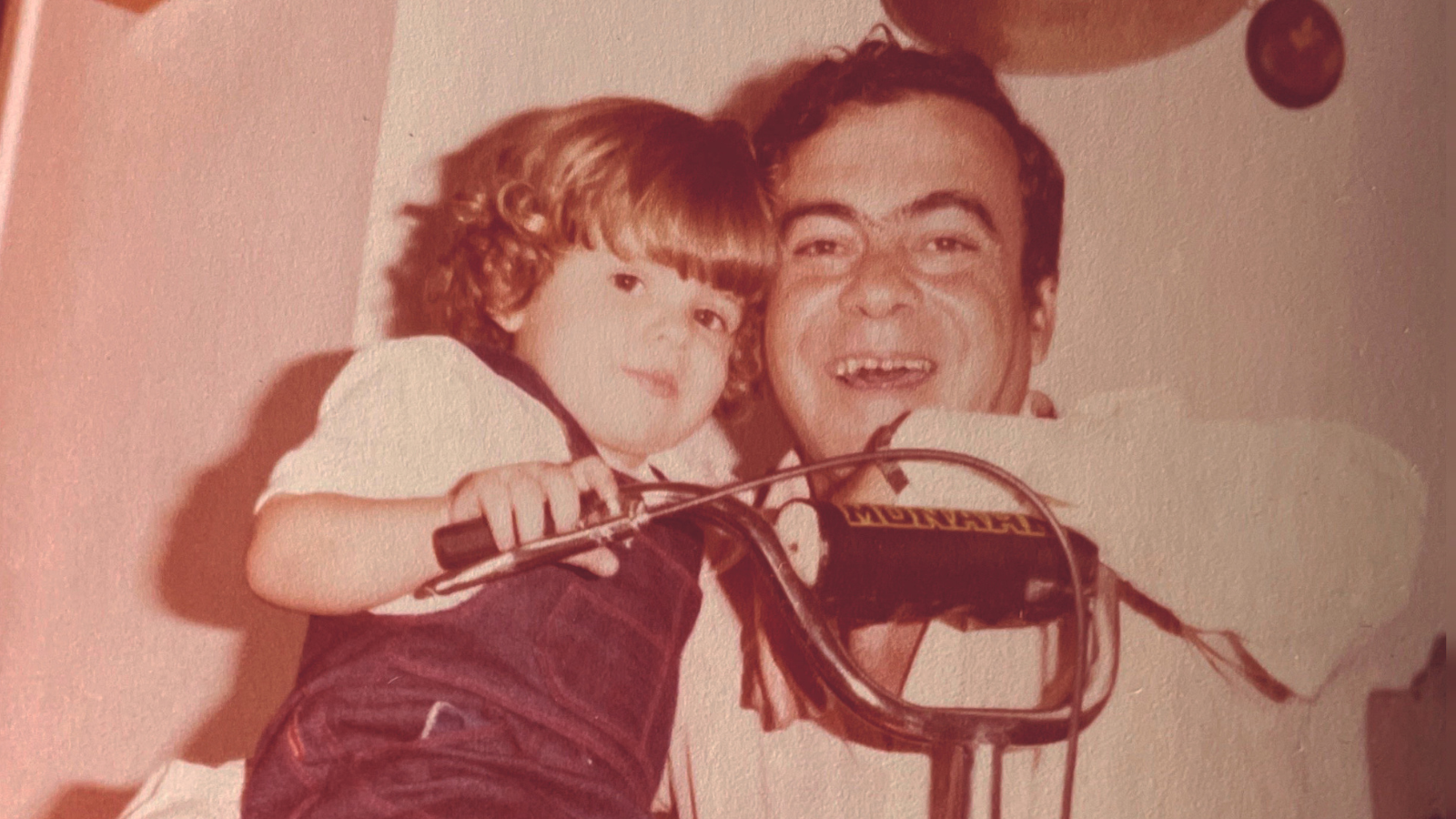Fernanda Abreu revisita o ‘batuque samba funk’ de seu disco mais emblemático
'Da Lata' está saindo em vinil e ganha livro e documentário comemorativos

Fernanda Sampaio de Lacerda Abreu ainda era conhecida como “Fernandinha da Blitz” quando lançou o album “SLA – Radical Dance Disco Club”, em 1990. O disco trouxe uma outra concepção sonora, com talk box (instrumento popularizado por Roger Troutman, tecladista e vocalista do grupo Zapp) e samples de disco e dance music. A dance music à brasileira de Fernanda chegou ao ponto máximo com “Da Lata”. Lançado em setembro de 1995 e com produção do inglês Will Mowat (do grupo Soul II Soul) e do brasileiro Liminha, o disco apresentava um amálgama da soul music internacional e nacional, com influências locais como o samba e o funk carioca. Recentemente, “Da Lata” ganhou uma edição em vinil, um livro e um documentário que reafirmam sua contemporaneidade e importância no cenário da música. “Da Lata 30 Anos”, aliás, irá percorrer alguns festivais de cinema em 2026 e Fernanda fará uma turnê comemorativa do disco.
Popstar de personalidade forte e convicções firmes, Fernanda Abreu falou com Billboard Brasil em uma lanchonete ao lado da antiga MTV, em São Paulo. E, como não poderia deixar de ser, a pergunta inicial foi motivada pela recente ação policial no Rio de Janeiro, no início de novembro, que teve como saldo cinco policiais e 117 civis mortos.
O documentário sobre “Da Lata” termina justamente com o “Reage Rio”, uma passeata contra a violência que aconteceu há exatos 30 anos. Como você avalia a situação daqueles tempos com o que está acontecendo agora?
Penso que a criminalidade está tão enfronhada com a política que fica difícil pensar numa solução. Porque não é só crime, tráfico de drogas ou jogo do bicho. É na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, no Executivo, no Judiciário, no Tribunal de Contas da União… Em todos os lugares, né? É uma coisa assim que vemos na letra de “Rio 40 Graus”, por exemplo: “Comando de comando bandidaço oficial…” Parece que tem uma vocação para contravenção, não sei o que é, cara, é uma coisa muito louca. Mas acho que o Brasil todo tá virando meio isso.
Bem, São Paulo também passa por um caos na segurança.
Quando a gente vê São Paulo, essa história do envolvimento do governo do Estado com o PCC e aí vai apertar a parte financeira e chega na Faria Lima [um dos principais centros econômicos do país, recentemente envolvido em acusações de “lavagem” de dinheiro do crime organizado] eu concluo que o negócio é muito sério. Porque venda de drogas tem em Paris, em Londres, qualquer grande cidade. Mas ninguém tá com fuzil na rua, né? Essa é a diferença. O armamento pesado faz a diferença. De onde vem, de onde vieram desde sempre as AR-15, AK-47, submetralhadoras? Não é do cara que está com chinelo, sem camisa e bermuda na favela. Como não é ali que tem refinaria de cocaína e nem plantação de maconha…
Ou seja, existem outros fatores de desestabilização além da criminalidade que vem com os traficantes…
No Rio tem a expansão da milícia. Lembro de uma matéria de 20 anos atrás que dizia que a milícia era melhor do que o tráfico de drogas, que os milicianos reprimiam a atividade dos traficantes. Só que eles dominaram o território e criaram um monopólio de venda de gás, de segurança, de comércio… E os traficantes adotaram esse método também e ganham até mais dinheiro com isso. Dizem que a receita das drogas nas favelas agora tipo, sei lá, 15% em relação ao resto do serviço que os criminosos prestam para a comunidade.
Os moradores viraram reféns: não podem comprar gás de outro lugar, não podem andar na van de outra pessoa, não podem andar de táxi de outra pessoa. O comércio abre e fecha de acordo com a vontade dos criminosos. É a máfia, né?
Viramos a Nova York do início do século passado.
Sim. Nesse ponto até que o governo Lula está fazendo bem, que é sufocar a parte financeira. Só não chegaram ainda no Al Capone [mafioso americano, que foi preso não pelos crimes de agiotagem e violência, mas por sonegar impostos]. Mas hoje o buraco é muito mais embaixo… Deve ser uma loucura lidar com segurança pública no Brasil.
Melhor falar sobre música… “Da Lata” encerra a trilogia iniciada em “SLA Radical Dance Disco Club”?
De certa maneira, sim. Talvez esse período se encerre de verdade com “Raio X” (1997), que era um disco que a gravadora queria que fosse ao vivo, mas, de uma certa maneira, revisita meus três primeiros discos. São canções inéditas com novas versões das músicas do meu repertório. Mas “Da Lata” foi onde eu cheguei no que eu achava que era bacana, essa coisa do pop/samba/funk. Ele traz muito do Brasil, algo que tinha faltado nos meus dois discos anteriores.
Como assim?
Faltou colocar tamborim, surdo e xequerê junto com a programação eletrônica, sabe? Queria colocar tamborim na programação, um scratch que fala com uma cuíca… fazer uma música pop eletrônica dançante, mas usando os elementos de funk carioca e de samba. Que, para mim, é carioca, mesmo que os baianos falem que é deles. O samba é carioca.
Mas você chamou um produtor inglês, Will Mowat, do grupo inglês Soul II Soul, para trabalhar no disco. Onde ele se encaixa nessa brasilidade?
Olha, foi um embate. Sempre gostei muito de Soul II Soul e fiquei feliz ao saber que um dos produtores do grupo queria trabalhar comigo. Fui para Londres e, quando cheguei lá, vi que o Will tinha todas as bases prontas, era só botar a voz. Eu disse: “Não é assim que a banda toca”. Porque senão seria um disco do Will Mowat com voz de Fernanda Abreu, né? Sugeri então que ele fosse para o Brasil, conhecer os músicos… Ele veio e se encantou com o Rio.
Quando o Liminha assume a co-produção do “Da Lata”?
Cheguei no Brasil, liguei para o João Augusto [diretor artístico da EMI]. Falei: “João, eu não vou fazer o disco inteiro com o Will, não estou me sentindo segura. Quero fazer metade do disco com ele e a outra metade com o Liminha. Aí liguei para o Liminha e falei: “A outra metade vai ser o Will Mowat.” A princípio, ele não queria dividir, mas topou porque era super fã do Soul II Soul, contanto que o Will gravasse num dia e ele gravasse em outro.
Você era a vocalista da Blitz. De repente, parte para a carreira solo. Esse processo foi difícil?
Mais ou menos. Seria mais difícil se eu saísse do nada para a posição de bandleader. Porque existe uma expectativa muito grande de você acontecer, de mostrar quem você é e para onde você vai. O que fiz foi transformar minha imagem de Fernandinha da Blitz, de vocalista, colorida, para Fernanda Abreu uma cantora de dance music brasileira.
Emocionalmente, para mim, foi bom. Porque depois do sucesso gigante que tive na Blitz, eu entrei com toda a tranquilidade na carreira solo. Na minha primeira reunião com o [diretor artístico] Jorge Davidson, eu disse: “Eu sei que a gravadora não vai investir em mim como investiu na Blitz”. Ele falou: “Não vai mesmo. Não sabemos desse mercado, que som é esse que você está fazendo, não sabemos nada disso”. Foi bom para mim. Porque eu saí de um sucesso gigante, já tinha vivido um monte de coisa super-legal para entrar com na minha carreira solo com muito mais tranquilidade, pensando numa carreira longa. E fiz questão de não se chamar mais Fernandinha Abreu. Porque nem minha mãe me chamava de Fernandinha.
Mas existia alguma expectativa comercial em relação ao seu disco de estreia?
Claro. Mas eu também já não tinha essa expectativa porque eu já tinha dado aquele não. A gravadora queria que eu gravasse um disco solo logo para não ser esquecida. Eu não tinha disco nenhum logo para fazer: esperei quatro anos até lançar meu primeiro disco e foi bom.
Pensando agora, foi uma decisão arriscada. Mas eu não tinha saída. O que poderia fazer? Fazer uma coisa meio Kid Abelha e Marina Lima? Precisava eu chegar com o meu som para poder, né, entender o que que os caras iam vender. Nesse processo, o Herbert Vianna foi um cara importantíssimo, bem como o [tecladista e produtor] Fábio Fonseca. A gente fazia música no computador no período em que ninguém fazia música eletrônica.

Uma coisa que acho legal em relação a você é que a gente não tinha, pelo que eu lembre, cantoras preocupadas com tudo: desde a concepção musical e visual, da coreografia, como vai ser o clipe… Como nasceu isso?
Eu acho que foi um pouco da Blitz. Porque quando eu entrei na banda, eu já era namorada do [designer] Luiz Stein e ele tinha uma dupla ao lado do Gringo Cardia. Era um trabalho muito incrível. A Blitz tinha ainda a direção da Patrícia Travassos, então namorada do Evandro Mesquita. Eles tinham essa preocupação com o cenário, iluminação, figurino, objetos de cena, com a parte gráfica e visual. Então eles tinham uma concepção, acho que até mais teatral, acho que por isso que eu também trouxe para mim.
Quando estreei o show do “SLA” no Cassino da Urca, em outubro de 1990, o Luiz fazia projeção com slide. Fazia coisas gráficas que ia trocando aos poucos. Lembro que o Cláudio Torres, que depois foi dirigir a Marisa Monte, disse que decidiu colocar projeções depois de assistir ao nosso show. Mas claro que a Marisa tem mais dinheiro do que eu, né (risos)?
Você se inspirava em apresentações de popstars internacionais para usar nos seus shows?
Não, porque a diferença de grana sempre foi grande. Mas claro, a gente via os shows internacionais. O que eu mais gostava era do Prince. Porque a Madonna tinha aquela coisa dos músicos ficarem atrás, o Michael Jackson também, meio Broadway, que o Prince para mim não tinha. Todos os músicos apareciam, todos tinham uma personalidade.
Você tem uma coisa que admiro. A banda que te acompanha tem a mesma importância que você.
Sempre falo para os músicos que estão comigo: “Cara, você tem que tentar aparecer mais que eu, tá? Você está aqui para se exibir, você está aqui para tocar, mas para também as pessoas quererem olhar para você”.
O documentário traz uma performance tua no Festival de Montreux, na Suíça, onde você tocou para uma plateia local – e não de turistas brasileiros. Chegou a pensar numa carreira internacional?
Eu não tive uma vontade tão grande assim, de fazer uma carreira internacional e abrir mão da minha vida que eu tinha no Rio de Janeiro. Não tinha essa ambição tão grande, sabe? Tinha um conforto no Rio com minha vida, com meus amigos, família… Por que trocaria isso para fazer carreira internacional? E mostrar para quem?
Entendo.
Não preciso fazer tudo. Lembro quando tinha aquela época da Blitz e os caras cismaram que eu tinha que fazer [ revista] “Playboy”. “Você é linda, é um sex symbol, vai ajudar a vender sua música”, falavam. Então eu respondia: “Gente, meu problema é entrar na escola para entregar a minha filha e me deparar com o porteiro com a minha minha revista e falar: ‘Oi, dona Fernanda’.”
No “Da Lata” tem uma foto minha nua, mas é um nu completamente estiloso. Se amanhã você fizer um um livro de arte, eu posso fazer um nu para você. Outra coisa é ficar vendendo revista para homem tocar punheta, entendeu?

Quando você lançou o disco de remixes “30 Anos de Baile”, em 2021, houve críticas pela falta de DJ mulheres na sua seleção. “Da Lata” recebeu até agora remixes da dupla feminina From House to Disco e de Anna-My. O que mudou de quatro anos para cá?
Eu tô procurando isso há um tempão, vejo que muitas mulheres já entraram em muitos line-ups de festas e fesivais.
Mas eu queria mulheres que estavam produzindo em estúdios. Porque uma coisa é você ser DJ e tocar em festival e outra coisa é você ter uma produção própria.
O Memê [DJ e produtor musical] me fez a cabeça sobre as meninas do House to Disco. Trouxe elas pra me visitar, olhar no olho, colocar o som que eu gosto, elas colocarem o que gostam…
Elas voltaram para São Paulo, depois me apresentaram uma demo que eu achei ótima. Sou fã de gente talentosa.