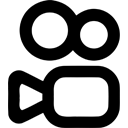Dança extrapola baile funk e ganha o mundo para demarcar identidade da quebrada

Cena do filme "A Batalha do Passinho" (Divulgação)
Que sinais indicam o sucesso de um elemento no Brasil? Ser personagem de novela? Letra de música? Tese de mestrado, aula em academia, livro de fotografia, espetáculo em palcos renomados? Todos esses marcos a dança funk brasileira já conseguiu.
“Quando um jogador de futebol faz gol num jogo importante, a primeira coisa que ele faz para comemorar é dançar. E hoje em dia, geralmente, é um funk”, observa a dançarina, pedagoga e pesquisadora de funk Renata Prado, da Frente Nacional de Mulheres no Funk. “Quando a gente vê as últimas competições mundiais da Rebeca Andrade fazendo suas performances com o funk, a gente entende quem ela é, de qual lugar ela parte e o que ela representa, né? Ela consegue representar milhares e milhares de jovens da periferia. Não é só porque ela é uma mina preta. Ela não é só isso. É porque ela imprimiu no esporte dela uma cultura muito peculiar. Então a dança é potente para demarcar a sua identidade”, explica.
Indissociável dos bailes black do Brasil desde os primeiros passos coreografados de James Brown e das danças em linha da Soul Train, a dança tem um papel fundamental dentro do estilo musical. “Esse lugar da demarcação territorial é muito ancestral e está presente em todas as eras da dança negra. Muita coisa do que a gente viu nos bailes black da década de 70, de 80, a gente encontra no baile funk: corporeidade, dança em roda, movimentos semelhantes e corpos negros”, diz Renata.
Ela esteve no “encontro das minas do passinho” no parque Villa Lobos, em São Paulo, em abril. Porque a dança funk hoje ocupa espaços que vão além das pistas –mesmo já tendo sido marginalizada, como tudo que envolve essa cultura. Tem residência artística e projetos de aceleração ligados a ela no EstudeOFunk; tem festival como o Passinhos do Brasil, idealizado pela mestre em dança e produtora cultural Jô Gomes; espetáculos como “Dos Tambores ao Tamborzão”, que passou pelo Auditório do Ibirapuera; uma “batalha show” envolvendo diversos movimentos do funk no Sesc; aulas destinadas a fazer mexer o corpo e libertar a alma, encorajando mulheres em oficinas como as da AfroFunk Rio; e por aí vai.
“Hoje a gente tem um mercado de dançarinos que atuam em filmes e séries, em comerciais, assim como em shows. A dança é fundamental para manter esses jovens no caminho da profissionalização a partir da sua cultura, a partir do seu conhecimento empírico”, explica Renata.
O plano fechado e a revolução digital
Enquanto as academias incorporam os movimentos em suas aulas de “street dance”, tem gente que prefere aprender na sala de casa, acompanhando coreografias e aulas on-line. É o “fenômeno” das coreógrafas e dançarinas que tomaram as redes sociais. Nomes como Aline Maia e Arielle Macedo, que juntas somam mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, são a ponta do iceberg das postagens espalhadas no TikTok, Instagram e YouTube.
“É interessante como essas redes influenciam, né? Porque quando o passinho surge, eles ainda dançavam dentro do quarto, os planos eram abertos. Aí chegou o TikTok e todo mundo no planinho fechado, plano americano às vezes. E aí o ombro e o rosto têm destaque com as mãos na coreografia. A perna perde um pouco a força. Isso tem a ver com a revolução digital também”, observa o documentarista Emílio Domingos, diretor de “A Batalha do Passinho”, e “Black Rio! Black Power!”
Haja fôlego, perna e braço para acompanhar a evolução das batidas, que se aceleram continuamente e para além do funk tradicional. Para Renata, essa dança segue fiel à sua origem. “Apesar de a gente ter nomenclaturas de danças extremamente diferentes, como dançarina, posso afirmar que muitos movimentos da nossa dança do funk são semelhantes à dança da década de 70. Em ‘Um Maluco no Pedaço’ –série americana exibida entre 1990 e 1996 nos EUA– você vê Will Smith e Carlton Banks fazendo o quadradinho com a mão na cintura. E, no baile funk hoje, a gente está fazendo exatamente o mesmo movimento só que com a mão no joelho, né? Então é um exemplo sobre como esses passinhos se conectam.”
Entre o passinho dos anos 70 e o dos 2000, surgiu o breakdance, hoje esporte olímpico. “O break chega muito forte no início dos 80, era um negócio muito diferente, até esteticamente, com roupas mais coloridas. Chegou com tudo mesmo no baile do Rio. É um marco nesse período”, recorda Emílio. Estilos de breakdance que se encaixavam na marcação do hip hop e do “funk antigo” se desdobram em movimentos da dança funk atual à medida que o beat acelera.
Do funk com 120 BPMs para o tamborzão, com 130 BPMs, uma década depois, acontece uma mudança no passinho que marca o funk carioca. É nesse momento que torna-se comum um hit ser acompanhado de uma coreografia. O Bonde do Tigrão, com seu “Cerol na Mão”, e Os Hawaianos, que marcaram com as coreografias de hits como “É o Pente!” e “Vem Quicando”, por exemplo, ajudaram a popularizar nas TVs e nas casas o jeito de dançar o funk.
Depois disso, o funk da Baixada Santista, o da capital paulista e as diversas as variações que ganharam o país (brega-funk, funk pop, funknejo) criaram seus próprios passinhos. “Passinho dos Maloka”, “Passinho do Romano” e “Passinho do Malado”, por exemplo, hoje são até categorias dentro dos campeonatos do gênero.
“A dança é fundamental por vários motivos: a gente está falando de corpos negros em movimento, e uma das estratégias da escravidão foi controlar os nossos corpos, né? Então, a partir do momento que a gente enxerga um espaço com jovens exercendo a sua corporeidade, isso já mostra como é importante para a garantia do bem viver dessa juventude, né?”, analisa Renata.
Seja em linha, no passinho ou no quadradinho, há muito se diz que uma boa sessão na pista de dança é melhor que uma hora de terapia.
TRENDING
- BTS divulga detalhes de ingressos para show histórico em Seul 08/02/2026
- Bad Bunny no Super Bowl: veja como foi o show do cantor 08/02/2026
- Diplo dá detalhes sobre novo álbum do BTS: ‘Vai chocar o mundo’ 08/02/2026
- Stray Kids lidera bilheterias dos EUA com filme de turnê 08/02/2026
- Encontro do samba: Alcione, Zeca e Aragão anunciam turnê especial 08/02/2026