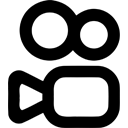O Brasil que esquece sua própria música e história
Talentos brasileiros ganharam prestígio lá fora, mas foram ignorados por aqui

Da dir. para a esq.: Rosinha de Valença; Chico Science e Nação Zumbi, Caetano Veloso e Gilberto Gil (Arte: Eduardo Pignata)
Em outubro de 2023, todo mundo que gostava, pesquisava ou trabalhava com música correu alvoroçado em busca da história da violonista brasileira Rosinha de Valença. Quem era a mulher que acabara de aparecer na lista das 250 melhores guitarristas de todos os tempos, publicada por uma icônica revista norte-americana? Como é que não sabíamos nada sobre a garota que gravou 14 discos, tocou com Baden Powell e Sergio Mendes, dona de um dos mais sofisticados dedilhados da Bossa Nova? Por que os gringos a conhecem — e a gente não?
Por que só damos valor quando os gringos aplaudem?
Rosinha é só um exemplo. Trinta anos antes, Eric Clapton colocou a mato-grossense Helena Meirelles, mestre da viola caipira, numa lista das 100 maiores guitarristas da revista Guitar Player. O caso de Arnaldo Baptista também é emblemático, toda a carreira solo dele foi revitalizada depois que Kurt Cobain e David Byrne rasgaram elogios à sua genialidade. Seria preciso uma edição da Billboard Brasil inteira para listar os casos em que a comunidade internacional prestou mais atenção à história da nossa música do que nós mesmos.

A verdade é que gostamos de um “like” gringo. A forma como celebramos a indicação do filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, em uma mistura de Copa do Mundo com desfile de escola de samba, é um bom exemplo de como o brasileiro se importa com a validação estrangeira. Batemos recordes de comentários apaixonados a famosos internacionais que elogiaram Fernanda Torres e detonamos quem ousou falar mal da nossa estrela. Uma paixão que, até sua indicação ao prêmio, não fez com que gastássemos tempo buscando a filmografia de Torres, de Salles ou de Selton Mello. Um comportamento estranho, vindo de um país acostumado com confetes, desde os tempos da Bossa Nova e da Tropicália.
“A Bossa Nova jamais teria alcançado tanto sucesso se não fosse a validação dos gringos”, me conta Roberto Menescal, enquanto conversávamos à beira da praia em Fortaleza (CE).
“A Bossa Nova jamais teria alcançado tanto sucesso se não fosse a validação dos gringos”, me conta Roberto Menescal, músico, produtor e grande arquiteto do gênero musical brasileiro mais amado do mundo, enquanto conversávamos à beira da praia em Fortaleza (CE), em dezembro de 2024. “Quando toco no Japão, o público canta todas as músicas conosco, em português. Muito mais do que a plateia daqui.”
As raízes desse comportamento, que nos faz distorcer o Brasil com uma certa inferioridade no meio musical, são profundas e nos acompanham há décadas. Não por acaso, Nelson Rodrigues cunhou o termo “complexo de vira-latas” em 1958, denunciando essa atitude em diversos aspectos da vida. Na música, não foi diferente: ora buscávamos desesperadamente a aceitação estrangeira, ora nos esquecíamos de compreender nossa própria ancestralidade cultural.
“Por um tempo, foi um sentimento até legítimo”, conta Ricardo Alexandre, jornalista e escritor que tem feito da documentação da história musical brasileira sua missão de vida, com livros seminais como “Dias de Luta: O Rock e o Brasil dos Anos 80 (2002)”. “Sofremos tanto com a repressão da ditadura que, por muito tempo, os artistas queriam ser ‘iguais’, fazer o que se fazia no resto do mundo ocidental. Só depois que nos equiparamos em termos de contemporaneidade — a partir dos anos 1990 — é que voltamos a fazer pop rock com referências brasileiras. Foi a geração de Chico Science, Otto e Skank.”
Quando se fala em autoestima cultural brasileira, as mudanças de mercado também influenciaram. “Demos o azar de, quando estávamos com um cenário musical consolidado, pronto para crescer, nossa indústria mudou com a abertura da economia, também nos anos 1980. As gravadoras foram vendidas para empresas de eletroeletrônicos, abriram capital. Os departamentos de marketing viraram setor de vendas. Contratos longos, de três álbuns, caíram em desuso. O lucro a curto prazo passou a valer. Chegamos atrasados no mercado da música”, explica Alexandre. Com essa visão imediatista, o interesse passou a ser pela tendência, pela novidade. O grande artista, com uma longa trajetória, foi parar na gaveta de baixo, aquela onde a gente guarda os panos de prato que nunca usa.
Se a pancada foi forte, mais ainda foi o tombo de um país já combalido. “Não tem como negar que o déficit educacional colabora. Segundo estudos recentes, 29% dos brasileiros não conseguem interpretar textos complexos”, explica Camilo Rocha, jornalista e autor do livro “Bate-Estaca: Como DJs, Drag Queens e Clubbers Salvaram a Noite de São Paulo” (2024). Em um país onde se lê pouco, a produção de conteúdo sobre cultura também cai. Menos discussão, menos vídeos, menos livros sobre nossa memória musical.
O Brasil sempre conviveu com a doença do esquecimento. As fitas dos programas da Jovem Guarda, por exemplo, eram apagadas para reutilização. Dos grandes festivais dos anos 1960, berço de Gil, Caetano e Chico, pouca coisa resistiu ao tempo. As seletivas sumiram; sobraram apenas as apresentações dos vencedores. A gafe se estende também aos próprios artistas. “Com raríssimas exceções, o artista brasileiro nunca se preocupou em preservar seu legado. O maior exemplo é o de Roberto Carlos, com a biografia ‘Detalhes’”, lembra Alexandre. O cantor foi à Justiça para proibir a distribuição da obra escrita por Paulo Sérgio de Araújo, retirando os exemplares das livrarias, alegando ter a privacidade invadida. “Sempre fomos um país de roceiros. A roça é o tipo de agricultura em que se destrói o próprio terreno que nos alimenta”, complementa.
E com a internet dos anos 2000, prometendo democratizar o acesso à informação, melhorou? Não muito. “Com as redes sociais, muito material foi produzido de forma independente contando a história da música, só que continuamos tendo acesso a muito mais conteúdo estrangeiro do que brasileiro. Isso tem a ver com algoritmos e com o tal do soft power”, explica Felipe Vassão, produtor musical e figura forte nas plataformas digitais. “As donas das redes são americanas e, agora, chinesas. É claro que elas privilegiam a divulgação de suas culturas.” Soft power é a estratégia de usar a cultura para perpetuar influência geopolítica — algo que os Estados Unidos praticam desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E a gente consumiu, e consumiu muito, tudo que nos foi entregue, aprendendo que o legal, o moderno, o cool era sempre o que vinha de fora.
“Vejo muito material histórico nas redes hoje e vejo muita gente jovem consumindo isso”, aponta Camilo Rocha, trazendo alguma esperança. Vassão, no entanto, pondera: “É muito mais fácil encontrar um show antigo, um álbum ou uma gravação rara de um artista gringo do que de um brasileiro. Assim fica difícil. Lá fora, a documentação é enorme. Aqui, quase inexistente.”
Há, no entanto, uma luz no fim do túnel — e ela pisca forte nos palcos dos festivais de música, que pipocaram recentemente, dedicados à música brasileira. O movimento é de mão dupla. “Muitos grandes artistas brasileiros não gostavam de dividir palco com outros em festivais, preferiam shows em teatro”, explica Juliano Libman, criador do festival Nômade, um dos expoentes da nova cena. “Depois da pandemia, entenderam a importância de renovar o público.” Até pouco tempo, era impensável ver Ney Matogrosso e Caetano Veloso como headliners de um evento que também reunia dezenas de artistas das novas gerações.
Esse cruzamento gera um espiral de conhecimento: o público jovem começa a conectar os elos da corrente. Se existe Jota.pê, é porque antes houve Emílio Santiago e Djavan. Se o sertanejo tomou o Brasil longe das capitais, hoje se compreende a importância de Chitãozinho & Xororó como bastiões do gênero, ao vê-los no palco do Rock in Rio. E se Thiaguinho e Péricles levam o pagode e o samba a multidões, é porque Cartola, Clementina de Jesus, Adoniran Barbosa e outros bambas abriram caminhos.
Mas ainda é pouco. Muita história ainda precisa ser contada — e assimilada — pelo povo brasileiro em relação à sua própria música. Quantas outras Rosinhas de Valença e Helenas Meirelles ainda existem, ocultas na mata do nosso descaso?
Milhares.
Jota Wagner tem 20 anos de experiência na indústria da música brasileira como DJ, jornalista de música, gestor de uma gravadora digital, produtor cultural e compositor. A coluna O Brasil não conhece o Brasil inicia uma série de reflexões sobre a memória da música brasileira. Acompanhe as edições mensais para reacessar o baú de memórias.
TRENDING
- Fortnite expande universo de ‘Guerreiras do K-pop’ com skin de Jinu 05/02/2026
- Agência de Cha Eun-woo nega ligação de familiares com novo restaurante em Seul 06/02/2026
- BTS anuncia nova lightstick; o que acontece com as anteriores? 05/02/2026
- Lisa, do BLACKPINK, será a estrela de nova comédia romântica na Netflix 05/02/2026
- Keposhka: a língua criada para a turnê do My Chemical Romance 05/02/2026